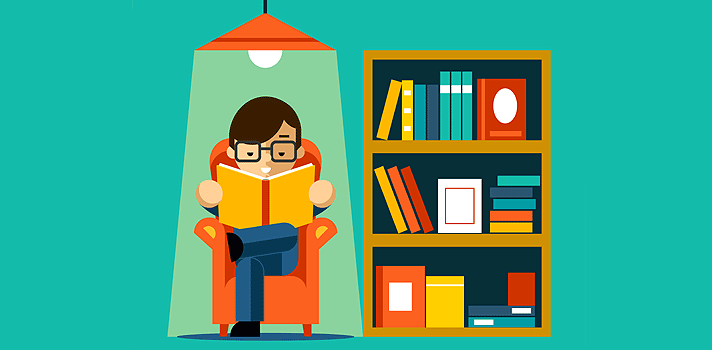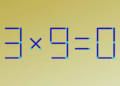Como outras coisas, as línguas mudam sem que o fato seja percebido.
Restaurantes self-service parecem ter existido desde sempre, como os celulares e os computadores pessoais. Ou calça jeans. Mas basta, para isolar um desses fenômenos, ver imagens de 1950, por exemplo, para verificar que as pessoas se vestiam de maneira diferente.
As imagens do Maracanã depois do segundo gol do Uruguai em 1950 mostram homens de terno e de chapéu. E o Maracanã não era uma “arena” para público seleto, como foi na Copa de 2014. Aliás, por mais caro que fosse o ingresso, havia muita gente de camiseta, tênis e bermuda, com bolsos para carregar celulares sofisticados e cartões de crédito. Estes, aliás, onde estavam em 1950?
Com as línguas ocorre a mesma coisa.
As mudanças se dão diante de nós e, entre uma e outra geração, algumas discrepâncias se instalam. Nem percebemos mais que houve mudança.
Claro, alguns percebem (até eu). Mas, neste caso, em geral, trata-se de profissionais, de especialistas ou, simplesmente, de cidadãos que reagem mal a mudanças: alguns não têm celular ou Facebook, outros se rebelam contra mudanças de regências verbais.
Vou anotar algumas mudanças que já ocorreram. Constato isso sem fazer pesquisa sistemática, apenas lendo jornais, ouvindo mesas-redondas e lendo trabalhos de meus alunos e dos meus colegas.
“Se” + infinitivo
A primeira mudança que menciono é a construção “se + infinitivo”:
“Para se fazer uma pesquisa”; “para se listar a bibliografia”; “para se redigir uma tese” é construção que vejo praticamente sem exceções.
Durante algum tempo, ainda recentemente, eu cortava o pronome quando lia as últimas versões dos trabalhos de alunos. Depois, passei apenas a assinalar, circulando. Eles perguntavam o que aquilo significava, eu dava minha avaliação, eles estranhavam, alguns “me” seguiam, outros diziam que achavam a ausência do pronome muito estranha, e o mantinham.
Já estou conformado, especialmente porque encontro a construção em textos de pessoas que têm quase a minha idade e também porque, de vez em quando, me “ouço” proferindo essa estrutura.
Anote-se que ela obedece a uma tendência do português brasileiro, a de preencher cada vez mais o lado esquerdo da frase. Um pouco curiosamente, embora a flexão verbal pudesse dispensar os pronomes sujeitos, eles estão cada vez mais presentes.
Talvez inconscientemente, estejamos nos preparando para uma conjugação verbal com cada vez menos morfemas de número e pessoa (como o francês).
Credibilidade = crença?
“Credibilidade” deixou de ser uma propriedade do político ou de um órgão (como a TV ou o Judiciário): agora é uma característica do povo, do cidadão, até do torcedor:
“O povo perdeu a credibilidade na Justiça”
“O torcedor perdeu a credibilidade no time ou na seleção” etc.
O fim do futuro
O “futuro” (como em: “Ganharemos a Copa”) desapareceu.
Agora todos dizem:
“Vamos ganhar a Copa” (mesmo o Parreira, acho).
No dia da aula sobre o futuro, os professores começam assim:
“Hoje vamos estudar o futuro. Página X: estudarei, estudarás, estudará…”.
A polivalência de “trazer”
Jornais como Folha de S.Paulo e O Globo vendem coleções.
Semanalmente, leio que o jornal “traz” o volume ou o disco tal.
Traz? Sim, agora todos trazem: não veiculam, não vendem um disco ou livro: trazem; não citam um autor: trazem Fulano etc.
“Isto se trata de…”
A construção, que ainda assinalo em textos de alunos, parece que entrou definitivamente na língua (vejo-a cada vez mais em jornais, mesmo nas colunas).
Em vez de impessoal, parece que está se tornando reflexiva (mas não sei fazer uma análise sintática razoável da construção; só sei que não adianta – seria uma bobagem – dizer que é um monstrengo, um erro etc.).
Dentro de não muito tempo, ninguém mais perceberá que é um “problema”. Até porque o verbo tem sido flexionado como em “Tratam-se de questões sociais”.
A extinção do “cujo”
“Cujo”? Ninguém mais diz “cujo”.
“Outro dia, alguém que acabei não anotando o nome…” em vez de “cujo nome acabei não anotando” é o tipo de construção dominante.
Acrescente-se um dado histórico. Livros de história da língua atestam usos como “Cujas [de quem] sõ estas coroas tã esplandecentes?” e “Cujo [de quem] filho és?”, estruturas que não são usadas nem mesmo por aqueles (como eu), que ainda empregam “cujo”.
Ou seja, sua história é bem mais longa e complexa do que pode parecer a quem simplesmente defende “cujo”. Ou seja: defendem empregos bem mais atuais do que os atestados na história mais antiga, cujos empregos não defendem mais…
O que este caso ensina?
Que as mudanças que ocorrem diante de nós podem parecer decadência, mas esta sensação não afeta as novas gerações, assim como as velhas gerações não lamentam o desaparecimento dos antigos empregos de “cujo”.
O sumiço do ditongo “ou”
O ditongo “ou” de formas verbais do passado também já bateu as asas: todos dizem “falô /acabô” etc. – mas, e isso é bem relevante, todos ainda mantêm o ditongo “eu” em “bebeu / comeu” etc.
O que fazer diante disso? Simples: tratar os fatos como fatos. Especialmente, ficar atento ao fato de que as mudanças não são aleatórias. Se desapareceu o ditongo em “falou”, não desapareceu em “bebeu”. Significa que há uma ordem da língua que se impõe aos rumos da mudança. A língua só muda onde pode mudar. Ou não muda de qualquer jeito.
Estou me queixando, reclamando? Não. Estou constatando (bastante informalmente). Para evitar certas leituras, insisto: não estou me queixando. Não acho que esses fatos sejam problemas.
Fim do [r] de infinitivo verbal
Faz tempo que o [r] dos infinitivos verbais caiu (na fala, mas também na escrita “informal”, como se vê em algumas mensagens trocadas entre jovens que foram associados aos “rolezinhos”:
“Bebe / beja” por
“beber / beijar”.
O papel da escola
O que a escola deve fazer, então? Desprezar usos como o de “cujo”, dos futuros (tipo “estudarei”) e do mais-que-perfeito (mandara/ vendera/ partira)?
Minha posição é a de que não. Mas ela não significa que estas formas devam ser decoradas e impostas em todos os casos. Devem ser estudadas em textos – o que implica que a escola deve ler textos antigos, não só jornais, charges ou letras de música (desconte-se o exagero). Notas inteligentes a tais textos permitirão tanto sua leitura quanto um razoável domínio de estruturas que desapareceram ou estão em franca minoria.
E na escrita, essas formas devem aparecer? Ser obrigatórias? Boas aulas levam alunos a dar-se conta de que a escrita não deve ser automática. Cada construção deveria ser selecionada. Numa releitura, sempre necessária, o aluno lê seu texto como se de outro, com olhar analítico. A pergunta será a mesma: mantenho a forma ou ela está aqui só porque não avaliei seu peso – estilístico, gramatical?
Com isso, cada palavra e construção terá, no texto, a função que deve ter: sua escolha dependerá do gênero textual, da situação, de a quem o texto se destina etc.
Parece exigência demais? Bem, é para isso que há escolas.